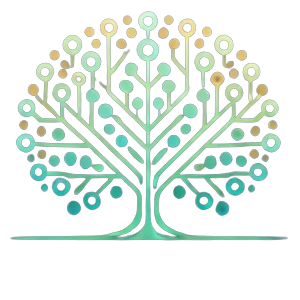
No Brasil, uma das formas mais eficazes de preservar o racismo antipreto é despolitizá-lo. Quando o racismo antipreto é tratado como opinião, excesso retórico ou comportamento individual, ele deixa de ser compreendido como aquilo que de fato é: um sistema historicamente construído, sustentado pelo Estado brasileiro, pelas elites econômicas e pelas instituições.
Essa redução do racismo antipreto a atitudes pessoais não é ingênua. Ela cumpre uma função política bem definida: deslocar o debate das estruturas para os indivíduos, das políticas para as intenções, da história para a moral. Com isso, o Estado brasileiro e a burguesia que ele representa é sistematicamente absolvido de sua responsabilidade histórica na produção das desigualdades raciais.
Racismo como estrutura, não como desvio
O racismo antipreto estrutural não se manifesta apenas quando alguém profere ofensas explícitas ou assume posições abertamente racistas. Ele opera, sobretudo, quando as desigualdades raciais são naturalizadas, quando a exclusão é explicada como fruto do mérito ou da falta de esforço individual, e quando as instituições se apresentam como neutras diante de resultados profundamente desiguais.
Desde o período colonial, o Estado brasileiro primeiro como colônia, depois como Império e, por fim, como República organizou suas políticas econômicas, jurídicas e administrativas de forma racialmente hierarquizada. A escravidão não foi apenas um sistema econômico; foi um modelo de organização social, legitimado por leis, pela Igreja, pela “ciência” e pela violência.
Quando a escravidão foi formalmente abolida, em 1888, não houve ruptura estrutural. Houve continuidade sob novas formas. O racismo antipreto, longe de desaparecer, foi reorganizado para atender às novas exigências do capitalismo nascente.
O papel do Estado no pós-abolição
O pós-abolição brasileiro é um dos períodos mais reveladores do caráter estrutural do racismo antipreto. O Brasil não implementou nenhuma política de integração social para a população negra liberta. Não houve acesso à terra, à educação, ao crédito ou ao trabalho formal.
Essa ausência não foi fruto de incapacidade administrativa, mas de decisão política. Ao mesmo tempo em que abandonava a população negra, o Estado investia pesadamente na imigração europeia, financiava a chegada de trabalhadores brancos e difundia a ideologia do branqueamento como projeto nacional.
O racismo antipreto, nesse contexto, passou a operar de forma menos explícita, porém mais sofisticada. A exclusão deixou de ser legalmente declarada, mas passou a ser administrativamente produzida.
“Ciência”, eugenia e legitimação do racismo antipreto
No início do século XX, o racismo antipreto brasileiro ganhou um novo aliado: a “ciência”. Teorias raciais importadas da Europa e EUA foram incorporadas ao discurso oficial para justificar a marginalização e extermínio da população negra. A eugenia, o higienismo e o darwinismo social forneceram uma aparência de neutralidade científica à exclusão racial.
O Congresso Universal das Raças, realizado em 1911, simboliza esse momento histórico. Sob o pretexto de debater o futuro da humanidade, o evento consolidou internacionalmente a ideia de hierarquias raciais e legitimou projetos nacionais de branqueamento. O Brasil participou ativamente desse debate, reforçando sua imagem de nação “em transição” rumo à branquitude.
Essas teorias não ficaram restritas ao meio acadêmico. Elas influenciaram políticas públicas, práticas educacionais, ações policiais e decisões administrativas. O racismo antipreto passou a ser visto não como injustiça, mas como necessidade histórica.
A falsa neutralidade do Estado
Um dos pilares do racismo antipreto estrutural é o mito da neutralidade estatal. O Estado brasileiro frequentemente se apresenta como árbitro imparcial, aplicador igualitário da lei. No entanto, quando observamos os resultados concretos de suas políticas, o padrão é inequívoco: a desigualdade racial e política de extermínio são produzidas e reproduzidas sistematicamente.
A seletividade penal, a violência policial, o encarceramento em massa, a precarização do trabalho e a exclusão educacional atingem desproporcionalmente a população negra. Isso não ocorre por coincidência, mas porque o Estado atua a partir de uma lógica histórica que associa negritude à marginalidade, à suspeição e ao perigo.
Tratar esses resultados como falhas pontuais é ignorar o funcionamento real das estruturas de poder.
Formação política como ferramenta de ruptura
Diante desse cenário, a formação política de combate ao racismo antipreto torna-se fundamental. Ela permite deslocar o debate do campo moral para o campo histórico e estrutural. Permite compreender que o racismo antipreto não é um erro do sistema, mas parte constitutiva dele.
Formação política não é doutrinação. É o desenvolvimento da capacidade crítica para identificar relações de poder, compreender processos históricos e questionar narrativas hegemônicas. Sem formação política, a luta contra o racismo antipreto tende a se limitar a respostas emocionais ou simbólicas, facilmente absorvidas pelo próprio sistema que se pretende combater.
Racismo estrutural e o presente
No Brasil contemporâneo, o racismo antipreto estrutural se manifesta de forma paradoxal. Ao mesmo tempo em que o discurso oficial afirma a igualdade, os indicadores sociais revelam abismos raciais profundos. Essa contradição não é um acidente: ela é o resultado de um projeto histórico que nunca foi desfeito.
Compreender essa continuidade é essencial para evitar soluções superficiais. Políticas pontuais, discursos de inclusão vazios e celebrações simbólicas não são suficientes para enfrentar um problema estrutural.
Racismo estrutural não é opinião, não é exagero, não é narrativa identitária. É história. É Estado. É projeto.
Para aprofundar essa compreensão a partir de fatos históricos concretos, acesse gratuitamente o e-book “5 Fatos Históricos Fundamentais para Compreender o Racismo Antipreto no Brasil”: